sábado, 31 de janeiro de 2009
- Vilafrancada
Vilafrancada é o nome dado à insurreição liderada pelo Infante D. Miguel de Portugal em Vila Franca de Xira a 27 de Maio de 1823.
O regime liberal instaurado em Portugal pela Revolução de 24 de Agosto de 1820 não podia satisfazer os sectores mais reaccionários da população, que reclamavam a restauração do Absolutismo. À cabeça dos descontentes encontravam-se a rainha D. Carlota Joaquina, esposa de D. João VI, que recusara jurar a Constituição de 1822 e estava exilada em Queluz, e o filho segundo dos soberanos, o Infante D. Miguel.
O ano de 1823 trouxe aos absolutistas a ocasião por que esperavam. A invasão de Espanha por tropas francesas mandatadas pela Santa Aliança para esmagar o regime constitucional e reconduzir ao poder o rei Fernando VII encorajara o levantamento absolutista do conde de Amarante no norte de Portugal e animou o partido da rainha a revoltar-se abertamente, confiante no auxílio francês. A 27 de Maio de 1823, o Infante D. Miguel deslocou-se a Vila Franca e aí se lhe juntou um regimento de infantaria que deveria ter seguido para Almeida a reforçar a fronteira contra as investidas dos revoltosos nortenhos. Foram dados vivas à monarquia absoluta, e é de crer que o infante e a rainha projectassem mesmo a abdicação de D. João VI, que se mantinha fiel à Constituição que jurara.
No final do mês, porém, D. João VI decidiu tomar a direcção da revolta, encorajado pelo levantamento do Regimento de Infantaria 18, que viera ao Palácio da Bemposta dar-lhe vivas como rei absoluto; partindo para Vila Franca, obrigou o infante rebelde a submeter-se-lhe e regressou a Lisboa em triunfo. As cortes dispersaram-se, vários políticos liberais partiram para o exílio e foi restaurado o regime absolutista, mas D. João VI logrou impedir a ascensão ao poder do partido ultra-reaccionário e manter a sua posição determinante no xadrez político. O partido da rainha não deixou, porém, de continuar a intrigar, e menos de um ano mais tarde eclodia nova revolta absolutista, a Abrilada, que resultou no exílio do próprio Infante D. Miguel.
A insurreição da Vilafrancada foi sobretudo sintoma das tensões que a rapidez das mudanças políticas no país haviam trazido à superfície e contribuiu para alimentar o clima de instabilidade que continuou a assombrar o país até à Regeneração.
segunda-feira, 26 de janeiro de 2009
- Cortes em Portugal
As Cortes Constituintes de 1820 ou Cortes Constituintes Vintistas estabeleceram pela primeira vez em Portugal um regime democrático moderno tal como o conhecemos hoje.
- O "Ultimatum" Inglês
O chamado Mapa cor-de-rosa seria o documento representativo da pretensão de Portugal de soberania sobre os territórios sitos entre Angola e Moçambique, nos quais hoje se situam a Zâmbia, o Zimbabwe e o Malawi.
A disputa com a Grã-Bretanha sobre estes territórios levou ao ultimato britânico de 1890, a que Portugal cedeu, causando sérios danos à imagem do governo monárquico português.
Face ao crescente interesse das potências europeias pela África, ao final do século XIX, tornou-se claro que Portugal deveria também definir uma nova política africana já que a crescente presença inglesa, francesa e alemã naquele continente ameaçava a tradicional hegemonia portuguesa nas zonas costeiras de Angola e Moçambique.
A Sociedade de Geografia de lisboa, defendendo a necessidade de formar uma barreira às intenções expansionistas britânicas que pretendiam a soberania sobre um território que, do Sudão, se prolongasse até ao Cabo pelo interior da África, organizou uma subscrição permanente para manter estações civilizadoras na zona de influência portuguesa do interior do continente, definida num mapa como uma ampla faixa da costa à contra-costa, ligando Angola a Moçambique. Nascia assim, ainda sem sanção oficial, o chamado "Mapa Cor-de-Rosa".
Em 1884 a aceitação unilateral pela Grã-Bretanha das reivindicações portuguesas ao controlo da foz do rio Congo levou ao agudizar dos conflitos com as potências europeias rivais. Convocada uma conferência internacional, a Cinferência de Berlim (1884–1885), para dirimir os múltiplos conflitos existentes e fixar as zonas de influência de cada potência em África, assistiu-se a um entendimento entre a França e Alemanha, face a uma atitude conciliatória da Grã-Bretanha, que abandonou totalmente o seu anterior entendimento com Portugal. O resultado foi a partilha do continente entre as potências europeias e o estabelecimento de novas regras para a corrida à África.
Portugal foi o grande derrotado da Conferência de Berlim pois, para além de assistir à recusa do direito histórico como critério de ocupação de território, foi ainda obrigado a aceitar o princípio da livre navegação dos rios internacionais (aplicando-se ao Congo, ao Zambeze e ao Rovuma em território tradicionalmente português), e perdeu o controlo da foz do Congo, ficando só com o pequeno enclave de Cabinda.
Após o choque da Conferência de Berlim, em Portugal percebeu-se a urgência de delimitar as possessões em África. Logo em 1885, começaram negociações com a França e a Alemanha para delimitar as fronteiras dos territórios portugueses.
O tratado com a França foi assinado em 1886. Nele foi incluído, como anexo, a primeira versão oficial do "mapa cor-de-rosa", apesar de a França não ter interesses naquele território. No tratado com a Alemanha, concluído em 1887, o mapa "mapa cor-de-rosa" foi novamente apenso, sendo apresentado às Cortes como a versão oficial das pretensões territoriais portuguesas. Contudo, no tratado assinado, a Alemanha apenas garantiu que não tinha pretensões directas na zona.
Informada desta pretensão portuguesa, a Grâ-Bretanha reagiu de imediato informando a Portugal ser nulo o pretenso reconhecimento francês e alemão do "mapa cor-de-rosa", pois aquelas potências nunca tiveram interesses na zona.
O governo português, que necessitava do acordo britânico (a Grã-Bretanha era a super-potência do tempo) para a delimitação de fronteiras, resolveu atrasar a negociação, fazendo saber que as suas pretensões eram efectivamente as do "mapa cor-de-rosa", que entretanto se tinha transformado num documento com ampla divulgação pública e objecto de arraigadas paixões patrióticas (a designação de "mapa cor-de-rosa" nasceu nesta altura dado o mapa enviado ao parlamento apresentar os territórios em disputa aguados com esta cor).
Barros Gomes, o responsável pela política colonial da época, aparentemente apostou no atraso inglês no controlo efectivo das áreas disputadas e organizou expedições portuguesas que percorreram as zonas em disputa e assinaram dezenas de tratados de vassalagem com os povos autóctones. O plano era secreto mas a espionagem britânica estava a par dele desde o primeiro momento, graças a um informador que tinha no próprio gabinete de Barros Gomes.
Após o desfecho do ultimato britânico de 1890 foi afirmado que o governo português em 1888 como base para negociações com Londres. Estaria então disposto a ceder à Grã-Bretanha o norte do Transvaal (o país dos Matabeles), retendo apenas o sul do lago Niassa e o planalto de Manica, por temer que a cedência daqueles territórios, para além de impedir a ligação costa a costa, conduzisse à livre navegação no rio Zambeze, podendo retalhar Moçambique.
Procurando o apoio do Transvaal e da Alemanha, o governo português procurou convencer o chanceler Bismarck que era do interesse bóer e alemão entregar a zona central de África a um terceiro poder de modo criar uma comunidade de interesses que obrigasse a Inglaterra a cedências.
Prosseguindo uma política de aproximação aos interesses bóer, o governo português retirou à Inglaterra o controlo do caminho-de-ferro de Lourenço Marques expropriando em meados de 1889 a companhia inglesa que o controlava. O Transvaal, em contrapartida, assinou pouco depois um acordo de tarifas aduaneiras e acedeu na fixação do traçado definitivo da fronteira com Moçambique.
Considerando injusta e injustificável a expropriação do caminho-de-ferro, a Grã-Bretanha reclamou de imediato, com o apoio dos Estado Unidos da América, pedindo uma arbitragem internacional, que Portugal recusou. Iniciou-se uma grande campanha de imprensa contra Portugal, que criou as condições políticas para a ruptura.
O resultado foi o ultimato britânico de 11 de Janeiro de 1890 sendo exigido a Portugal a retirada de toda a zona disputada sob pena de serem cortadas as relações diplomáticas. Isolado, Portugal protestou mas seguiu-se a inevitável cedência e recuo.
E assim acabou o "mapa cor-de-rosa", mas não sem que antes tivesse deixado um legado de humilhação nacional e frustração (bem patente no Finis Patriae de Guerra Junqueiro) que haveria de marcar Portugal durante muitas décadas.
quarta-feira, 21 de janeiro de 2009
- Constituição portuguesa de 1822
A Constituição Política da Monarquia Portuguesa, aprovada em 23 de Setembro de 1822 é a primeira lei fundamental Portuguesa, o primeiro documento constitucional da História do país, o qual marca uma tentativa de pôr fim ao absolutismo e inaugura em Portugal uma monarquia constitucional.
É resultado dos trabalhos das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa de 1821-1822, eleitas pelo conjunto da Nação Portuguesa - a primeira experiência parlamentar em Portugal, nascida na sequência da revolução liberal de 24 de Agosto de 1820, no Porto. As Cortes Constituintes, cuja função principal, como o próprio nome indica, é elaborar uma Constituição, iniciaram as sessões em Janeiro de 1821 e deram os seus trabalhos por encerrados após o juramento solene da Constituição pelo rei João VI de Portugal em Outobro de 1822 (o qual, no entanto, foi recusado pela rainha Carlota Joaquina, e por outras figuras contra-revolucionárias de grande nomeada, como o Cardeal-Patriarca de Lisboa, Carlos da Cunha e Menezes).
Definida como sendo bastante progressista para a época, inspirou-se, numa ampla parte, no modelo da Constituição Espanhola de Cádis, datada de 1812, bem como nas Constituições Francesas de 1791, 1793 e 1795, sendo marcante pelo seu espírito amplamente liberal, tendo ab-rogado inúmeros velhos privilégios feudais, característicos do regime absolutista. Estava dividida em seis títulos e 240 artigos, tendo por princípios fundamentais os seguintes:
a consagração dos direitos e deveres individuais de todos os cidadãos Portugueses (dando primazia aos direitos humanos, nomeadamente, a garantia da liberdade, da igualdade perante a lei, da segurança, e da propriedade);- a consagração da Nação (união de todos os Portugueses) como base da soberania nacional, a ser exercida pelos representantes da mesma legalmente eleitos - isto é, pelas Cortes, nas quais reside a soberania de facto e de jure, já que os seus elementos têm a legitimidade do voto dos cidadãos;
- a definição do território da mesma Nação (Continente, Ilhas Adjacentes, Reino do Brasil e Colónias na África, Ásia e Oceania);
- o não reconhecimento de qualquer prerrogativa ao clero e à nobreza;
- a independência dos três poderes políticos separados (legislativo, executivo e judicial), o que contrariava os princípios básicos do absolutismo que concentrava os três poderes na figura do rei);
- a existência de Cortes eleitas pela Nação, responsáveis pela actividade legislativa do país;
- a supremacia do poder legislativo das Cortes sobre os demais poderes;
- a emanação da autoridade régia a partir da Nação;
- a existência, como forma de Governo, de uma Monarquia Constitucional com os poderes do Rei reduzidos;
- a União Real com o Reino do Brasil;
- a ausência de liberdade religiosa (a Religião Católica era a única religião da Nação Portuguesa).
O poder legislativo passou a ser da competência das Cortes, assembleia unicameral que elaborava as leis, e cujos deputados eram eleitos de dois em dois anos pela Nação. A preponderância do poder legislativo sobre o poder executivo é uma característica dos regimes demo-liberais mais progressistas, por oposição às chamadas Cartas Constitucionais, de cariz aristocrático e outorgadaas pelo Rei.
O poder executivo era exercido pelo Rei, competindo-lhe a chefia do Governo, a execução das leis e a nomeação e demissão dos funcionários do Estado. No entanto, o Rei tinha apenas veto suspensivo sobre as Cortes, podendo suspender a promulgação das leis de que discordava, mas sendo obrigado a promulgá-las desde que as Cortes assim o voltassem a deliberar. Não lhe era concedido o poder de suspender ou dissolver as Cortes.
Em ocasiões especiais, o Rei era aconselhado pelo Conselho de Estado, cujos membros eram eleitos pelas Cortes, e coadjuvado pelos secretários de Estado, directamente responsáveis pelos actos do Governo. Apesar de tudo, a sua pessoa era considerada inviolável.
O poder judicial pertencia, exclusivamente, aos juízes, que o exerciam nos Tribunais.
Quanto ao corpo eleitoral, e de acordo com o artigo 34.º da Constituição, podiam votar, para eleger os representantes da Nação (deputados), os varões maiores de 25 anos que soubessem ler e escrever. Tratava-se, pois, de um sufrágio universal e directo, de que, no entanto, estavam excluídos as mulheres, os analfabetos, os frades e os criados de servir, entre outros.
Com a aprovação desta Constituição tem início em Portugal a Monarquia Constitucional; o processo da sua consolidação, porém, viria a ser difícil e demorado. Contudo, a temeridade das suas propostas foi de certa maneira o impulso para uma reacções mais exacerbada das facções conservadoras da sociedade portuguesa, que logo viriam a pôr fim à sua vigência.
Com efeito, a Constituição de 1822 esteve vigente durante apenas dois efémeros períodos: um primeiro período entre 23 de Setembro de 1822, altura em que foi aprovada, e 3 de Junho de 1823, ocasião em que D. João VI a suspendeu por ocasião da Vilafrancada, com a promessa não cumprida de a substituir por outra; um segundo período entre 10 de Setembro de 1836, quando ocorreu a Revolução de Setembro, e 20 de Março de 1838, momento em que foi aprovada a nova Constituição de 1838. De facto, foram dois dos períodos mais fecundos em termos de produção legislativa destinada a acabar com o Portugal Velho a que se referiram, entre outros, Alexandre Herculano ou Oliveira Martins.
Apesar de tudo, a Constituição de 1822 fica no entanto como um marco fundamental para a História da democracia em Portugal, e qualquer estudo sobre o constitucionalismo terá que a ter como referência nuclear.
segunda-feira, 19 de janeiro de 2009
- I have a Dream
Eu Tenho Um Sonho...
Dedico este video ao Presidente eleito dos EUA, neste dia de tomada de posse, onde se espera que dias melhores surjam para o povo dos EUA.
http://www.youtube.com/watch?v=Y4AItMg70kg
28 de Agosto de 1963 ///// 20 de Janeiro de 2009
- Vinha no Comboio
Hoje, 19 de Janeiro de 2009, vinha do comboio para casa, quando à minha frente se sentam dois homens. Passados poucos segundos, eles começam a falar sobre o seu trabalho.
Fiquei a saber que ambos trabalham nas finanças. À minha frente, sentou-se o mais velho dos dois (um doutor), enquanto o outro, o mais novo, escutava com toda a atenção o que o seu "mestre" dizia. (escuso de dizer, que infelizmente devido ao tom de voz, também eu, ouvia tudo)
Vou ser suscinto e contar apenas as duas partes que mais me pareceram interesantes.
1º.parte:
- Diz o Doutor: Se os empresários, podem usar de criatividade quando apresentam as contas, porque não podemos nós fazer o mesmo. O governo estabeleceu-nos objectivos e a única coisa que interesa é apresentar bons resultados.
- Diz o "disciplo": Quantos milhões se conseguem, através dessa criatividade orçamental?
- Diz o Doutor: Milhões? Diz antes alguns mil milhões. O Fisco disse que recolheu cerca de 1.5 mil milhões de impostos a mais, daqueles que deviam ou fugiam. Na verdade foi mais, uns 1.3 mil milhões. E não foi só esta jogada que fizeram através da criatividade orçamental. Tudo somado, dá uns bons 3 mil milhões a mais, que na verdade não existem, pois há os reembolsos.
2º.parte:
- Diz o Doutor: Eu quando tirei contabilidade, o meu professor contou-nos uma anedota:
Um empresário precisava de um empregado que percebe-se de contas. Muitas pessoas responderam ao anuncio. Sempre que um chegava, o empresário perguntava, quanto é dois e dois?
Todos respondiam, um bocado perplexos quanto à pergunta, que dois e dois são quatro.
O empresário agradecia e dizia que depois ligava. Entretanto apareceu um, que recebeu a mesma questão, quanto é dois e dois. O empresário recebe como resposta, dois e dois são quatro, cinco, seis,... é quanto o senhor quiser.
----------------------
Eu fico.... Como muitos ficam!
Vergonha, sinto-me desprotegido neste sistema "democrático", onde em todos os sectores da vida política deste país, o que conta é jogar para os votos, em vez de dizer a verdade.
sábado, 17 de janeiro de 2009
- 5 portugueses saltaram para a brecha

- Durante o primeiro cerco a Diu (1538), António da Silveira defendeu a fortaleza com 600 portugueses, contra dezenas de milhares de turcos e cambaios. Ao fim de meses de lutas incessantes, o número de portugueses ainda capazes de manusear o mosquete ou a espada desceu para uns meros 40, tendo o adversário perdido para cima de 3.000 homens, acabando por desistir e ir-se embora.
- SEBASTIÃO DE SÁ
- ANTÓNIO PESSANHA
- BENTO BARBOSA
- BARTOLOMEU CORRÊA
- MESTRE JOÃO, o cirurgião de Diu.
- - Jacinto Freire de Andrade: "Vida de Dom João de Castro Quarto Visorey da índia", edição de 1671, pág. 160; "Portugal Diccionario Histórico", edição de 1907, voi III. pág, 73/74). fonte: Rainer Daehnhardt: "Homens, Espadas e Tomates", pág. 117-120
sexta-feira, 16 de janeiro de 2009
- 15 portugueses contra 400 mouros
Estavamos no dia 14 de Agosto, véspera de Nossa Senhora. Dia da passada Aljubarrota. Nessa manhã em Diu, saíram da fortaleza portuguesa Lopo de Sousa Coutinho e mais um pequeno grupo de portugueses, encarregados de dar protecção à gente míuda que ia buscar água e lenha à cidade, essa já em poder do inimigo. Restava pois a fortaleza, onde os portugueses se tinham refugiado, prontos a suster qualquer ataque.
É então que se encontram no caminho alguns mouros que deambulavam por ali, longe das suas hostes. A surpresa foi total. Eis então que o grito "Santiago" é ouvido, dando sinal ao ataque dos portugueses que imediatamente investiram contra os mouros. Estes, em estado de choque, fogem, apenas para avisar os seus camaradas que alguns portugueses tinham saído da fortaleza, e pois que com pouco esforço muitos dos seus poderiam apanhar os portugueses.
Assim foi. Quase de imediato, 400 mouros saiem do acampamento aos gritos e percorrem as ruas turtuosas em direcção ao pequeno bando de portugueses. Estes, ainda mal refeitos do choque, apercebem-se da imensa desvantagem numérica que se afigurava perante os seus olhos.
Os Portugueses da Índia eram«um bando de fidalgos aventureiros e degredados», Isto dizia o 1º Vice-Rey, Francisco de Almeida. E o episódio que se segue iria-lhe mais uma vez dar razão.
Estando Lopo de Sousa Coutinho, mais os seus 14 portugueses numa pequena e estreita rua, de onde se tinha dado o encontro inicial, aparece ao fundo desta grande ajuntamento de Mouros. Ultrapassando a tentação inicial de se lançarem como loucos ao inimigo, já uma tradição portuguesa da Índia, Simão Furtado, um grande cavaleiro e homem avisado, sai de fronte dos portugueses, impedindo-lhes a passagem, dizendo:
-" Deixai-os vir, deixai-os vir! Que quanto mais se juntem e apinhem a rua, menos uso farão de suas armas! "
Pois assim foi.
Os portugueses esperaram, ombro a ombro, a chegada do inimigo em fúria. E deu-se o embate. Lanças, espadas, terçados, punhais, todos brilhavam perante a imensidão de homens que ali, naquela pequena rua se empurravam uns aos outros. Os mouros, que da sua primeira fila tinha sido empalada pelas lanças portugueses, subiam uns por cima dos outros, na ânsia de matarem um português. Nesta correria, muitos morriam espezinhados pelos seus compatriotas, outros subiam os telhados para se amandarem por cima dos portugueses, estes que, maravilha de se ver, resistiam a tudo e ainda tinham o valor de desferirem golpes de espada sobre o inimigo, um após o outro.
E se lhes faltava as armas, pois que faziam como Simão Furtado, que com as suas próprias mãos pegava nos mouros, e aos pontapés os enfiava para lá das suas linhas.
Mais uma vez se viu então como os poucos que os nossos eram, bastaram para lhes fazer conhecer como Deus primeiramente, e os lugares muitas vezes, dão a vitória a quem os conhece. Dos mouros, 30 mortos e muitos mais feridos, viram-se perante a impossibilidade de uma vitória, a escolha de uma debandada, voltando as costas aos portugueses. Dos nossos, o próprio Lopo de Sousa Coutinho que ao longo do combate esteve sempre à frente dos seus homens, encontrava-se ferido na perna esquerda, resultado de uma profunda cutilada. Mas a ordem e o desejo foi instantâneo. Pois então que os poucos portugueses puseram-se perseguindo os perros que fugiam, já arrependidos de ter entrado em batalha contra tão valorosos homens. E ainda mais tempo os perseguia, se não fosse chamarem-nos da fortaleza, que entretanto tinha se repleto de portugueses nas muralhas, assistindo com grande emoção à peleja de tão poucos contra tantos.
fonte: Utilizador Condestável ;
Publicado em:
http://www.monarquicos.com/forum/viewtopic.php?t=865&postdays=0&postorder=asc&start=0
quinta-feira, 15 de janeiro de 2009
- Uma Curiosa Troca de Insultos
quinta-feira, 8 de janeiro de 2009
- Mad World
Mad World
Como impedir isto de acontecer?
No nosso bairro, cidade, país, mundo?
O que fazer?
É preciso fazer algo! Divergências à parte, temos todos de agir!
Proponho o seguinte:
Vamos ajudar, participando em acções de solidariedade. O voluntariado é necessário, vamos ajudar, não será tempo desperdiçado.
2009 será um ano muito complicado. Não podemos deixar que estas situações aconteçam. A quem recorrer? À República? À Monarquia? A Quem recorrer?
Vamos ser solidários, comecemos NÓS a fazer a diferença!
- Monárquico sem vergonha – em três pontos
Quando somos chamados a reflectir sobre uma qualquer doutrina política, principalmente se a mesma for referente à chefia de estado de um país, neste caso do nosso país, arrastamo-nos quase sempre para o facilitismo do “porque sim”. Gostava que um qualquer republicano, ou monárquico que seja, me explicasse o porquê de preferir um rei ou um presidente para chefiar o seu país, neste caso Portugal. Os argumentos recorrentes dos “porque sim” levam-nos ao marialvismo monárquico por um lado e ao jacobismo esquerdista por outro. No fundo, os dois “porque sim” são a mesma coisa – transformados anualmente em material de show business, pronto a animar as madrugadas televisivas dos vários primeiros de Dezembro.
Para uma pessoa defender uma doutrina política, enganem-se os que pensam que não falamos de um doutrina política, é preciso ter uma argumentação sólida sobre a mesma. Não basta sermos crentes, não basta sermos monárquicos ou republicanos “porque sim”, se assim fosse não estaríamos a reflectir sobre política, mas sim sobre religião. Gostava então de começar por expor o porquê de eu me dizer monárquico. Vou tentar ser breve e ao mesmo tempo não pecar por falta de argumentação, que aliás comecei por criticar.
Defendo uma monarquia moderna para Portugal, uma chefia de estado de cariz hereditário e europeísta, herdeira do legado deixado pelos nosso últimos reis. Pegando neste ponto, a primeira razão para me dizer monárquico é uma motivação histórica e identitária de um jovem do século XXI que olha para Portugal. Estamos perto de comemorar o centenário da república e a esta distância podemos começar a reflectir sobre as verdadeiras motivações do regicídio e também da revolução republicana do 5 de Outubro. Não me quero alongar neste ponto, até porque muito já foi dito e escrito neste último ano, mas basta compararmos as personalidades dos nossos dois últimos reis com a dos nossos vários presidentes do século XX português. Cem anos de república, foram em parte 40 anos de ditadura fascista, de isolamento diplomático e de um retroceder cultural. Tudo aquilo contra o qual o Rei D. Carlos e o Rei D. Manuel II lutaram. Um rei é um garante da soberania, da cultura e da história de um povo – o rei é livre, o país também.
A segunda razão é óbvia para quem observa esta questão sem filtros, sem palas e sem preconceitos. Portugal é hoje um país de compadrios, onde impera a corrupção, os escândalos que envolvem políticos e gestores das grandes empresas, onde os ricos são cada vez mais ricos e conseguem com facilidade manipular os políticos, nascidos e criados nos aparelhos partidários. Tem alguma lógica que um chefe de estado venha do próprio sistema? Sendo o chefe de estado o arbitro e moderador das relações políticas do país, deverá ele vir dos próprios aparelhos partidários? Esta promiscuidade não existe quando o chefe de estado já o nasce sendo, sem precisar de vender a sua alma ao capital, aos interesses e aos lobbys. É este o principal paradigma da república, que a faz ser cada vez mais questionada.
A terceira e última razão é de ordem prática. Um rei, ao contrário de um presidente da república, tem por parte do povo e da comunidade internacional uma legitimidade que um presidente da república não tem. Por parte do povo, porque o rei é rei de todos os portugueses, ao contrário do presidente da república que é eleito apenas por uma parte dos eleitores, que posteriormente não se reflectem na sua figura – Cavaco Silva é um exemplo por demais evidente. Por parte da comunidade internacional, por razões históricas, familiares e mais importante do que as outras duas, por ser independente face a pressões políticas de grupos partidários de cariz internacional.
Assumo-me assim como um monárquico sem vergonha de o ser. Como diria o Miguel Esteves Cardoso, “os monárquicos são o maior partido clandestino existente em Portugal” e para ser monárquico não basta ter um autocolante estampado na traseiro do carro e dizer que o somos “porque sim”. Por esse motivo, para que se desmascare a república e se faça uma reflexão séria sobre o ideal monárquico, aceitei o simpático convite do João Távora e assim começo a minha travessia no “Centenário da República”.
fonte: O Amor nos Tempos da Blogosfera - Um blog de João Gomes
http://oamornostemposdablogosfera.blogs.sapo.pt/
sexta-feira, 2 de janeiro de 2009
- Padre Júlio. «Opinião sobre a democracia»
Vivemos numa época em que a mudança de partido é frequente. Umas vezes por convicção outras por conveniência. E todas estas atitudes e muitas outras se justificam à sombra da democracia que sendo, por definição etimológica, o «governo do povo», este, em concreto, «pouco ordena». E talvez não sejam inoportunas as palavras de Sismondi: «O sufrágio universal, que considera os homens como algarismos, como tantas outras unidades iguais, e que os "conta" em vez de "pesá-los", despoja a nação do que tem de mais precioso, que é a influência dos homens eminentes».
(...) Reprovo a democracia? Não! Porém, não acredito nela como «panaceia» universal ou como único regime de governo. Penso até que a democracia deve ser, mais que uma forma de governo, mentalidade generalizada dum povo nas suas atitudes e comportamentos; mais que um governo democrático, interessa um «povo democrático». De resto, não admito sistemas de «demolatria», como parecem defender certos «democratas» marcados pela apetência do poder e apoiados num indisfarçável espírito demagogo. Um povo sob o regime monárquico poderá ser mais democrático que outro sob um regime republicano.
(...) «O Povo é quem mais ordena», um estribilho com sabor a ironia.
Padre Júlio A. Massa - Trabalho e Bem-Estar








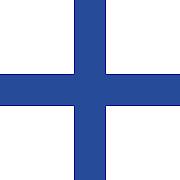









.jpg)













.svg.png)













